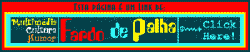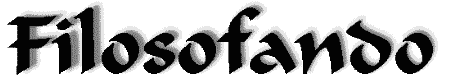
Faça-se![]() a luz!
a luz!
Se lhe interessar faça um "save"
da página para a ler "off line"
ou faça um "print"

Aristóteles
Um dia, em meados do Verão do ano de
366, apresentou-se um jovem para se matricular na Academia de Platão. Vinha da cidade
macedónia de Estagiros, o «Oeste Sevagem» do mundo ateniense. Porém, nada havia de
rústico no elegante rapaz. Era a imagem perfeita do requinte, pois fora educado num
ambiente de cultura. O pai, já falecido, fora médico na corte de Amintas, rei da
Macedónia e avô de Alexandre. Desde a primeira infância, o jovem Aristóteles fora
adestrado para uma vida de disciplina mental e conforto físico.
A sua chegada à Academia provocou sensação entre os demais estudantes, que viram
nele um aristocrata afável, bizarro, gracioso, de voz branda, delicado, polido,
modelo de bom proceder e de elegância no trajar. Falava com um ceceio afectado, e
prestava mais atenção às suas roupas - como se queixava Platão - do que convinha a
alguém que amasse sinceramente a sabedoria.
Evidenciava, contudo, aptidões intelectuais incrivelmente diversas. Parecia quase impossível um só espírito estar aberto a tantas facetas do conhecimento. Política, drama, poesia, física, medicina, psicologia, história, lógica, astronomia, ética, história natural, matemática, retórica, biologia - eram estes apenas alguns pratos do variadíssimo banquete com o qual procurava o jovem estudante alimentar o seu voraz apetite de saber. Certa vez, Platão afirmou que a sua Academia se compunha de duas partes - o corpo dos seus estudantes e o cérebro de Aristóteles.
Como era de esperar, o maior mestre e o estudante mais insigne de Atenas não poderiam continuar juntos. Quando um grego se encontra com outro, especialmente num nível de igualdade mental, o choque torna-se inevitável. O jovem e o velho filósofo discutiam amiúde, se bem que mutuamente se adorassem.
Quando Platão morreu (347 a.C.), Aristóteles tinha trinta e sete anos. Esperava justamente ser escolhido como sucessor de Platão na presidência da Academia. Todavia, sofreu uma desilusão. Foi regeitado como «estrangeiro» e, em seu lugar, elegeram um ateniense. Decepcionado, Aristóteles esperou uma oportunidade para sair de Atenas. Ela surgiu sob a forma de um convite de um dos seus antigos condiscípulos, Hermias. Este filósofo-político obtivera a suserania de um grande território na Ásia Menor. Como Dionísio, rei de Siracusa, almejava experimentar um governo sábio, contanto que a sabedoria não lhe interferisse com as riquezas. E, assim, convidou Aristóteles para lhe ensinar como conciliar a justiça abstrata com o esbulho concreto.
O sábio, porém, interessava-se apenas pela justiça. Falhou, portanto, na sua missão de afastar o amigo da procura de riquezas e encaminhá-lo no sentido da equidade. Conseguiu, no entanto, casar com Pítia, a encantadora filha adoptiva de Hermias. E, conquanto amasse a jovem por si própria, não ficou aborrecido por a noiva trazer consigo um belo dote. Aristóteles, como veremos, não era contrário a uma «justa medida» de prosperidade. Na realidade, considerava-a como um dos requisitos essenciais a uma vida feliz.
Casou com P´+itia, empregou o seu dinheiro, e passou a lua-de-mel absorvido nos seus estudos científicos.
Terminada a lua-de-mel, voltou à corte de Hermias, aliás, por muito pouco tempo. As intrigas de Hermias haviam despertado a ira de um rei persa, que lhe invadiu o país, o aprisionou e mandou crucificar.
Mais uma vez, Aristóteles se viu sem pátria e sem emprego, e também mais uma vez foi auxiliado por um rei. Desta feita, foi Filipe da Macedónia, filho de Amintas e pai de Alexandre, que o convidou para residir no seu palácio, como tutor de Alexandre.
Quando Aristóteles voltou à corte na qual seu pai servira como médico real, sentiu-se «como um peixe fora de água». O ambiente, naquele momento, não era propício à meditação filosófica. Respirava-se uma atmosfera de desregrada ambição, bárbaro explendor e selvagem vulgaridade. O rei Filipe era homem de inteligência superior, mas de baixa educação. Usava uma linguagem eriçada de erros gramaticais. «Não sou um bárbaro», insistia, e não desejava também que o seu filho fosse «um bárbaro». Na realidade, queria que Alexandre se transformasse num requintado filósofo, o que era tão difícil conseguir-se como transformar um sorvedouro turbilhonante em plácido lago. Alexandre era a cria selvagem de um leão feroz. Na realidade, toda a corte se assemelhava a uma floresta cheia de feras raivosas. Contendas, duelos, devassidões, assassínis - tudo isso andava na ordem do dia. Olímpias, a esposa do rei Filipe, era semilouca, e o marido e o filho não lhe ficavam muito atrás. Num dos banquetes reais, Filipe tentou apunhalar Alexandre, porque o rapaz o insultara. E Alexandre, para que o não superassem, desferiu um ataque homicida contra o pai. Felizmente para os dois, mas infelizmente para o Mundo, os circunstantes conseguiram apartá-los.
Tal era o turbulento ambiente familiar que Arsitóteles fora encarregado de suavizar com a «doçura da sabedoria». Debalde, porém. Filipe sonhava havia muito a conquista do Mundo inteiro. Limitava-se por ora em realizar a primeira parte do seu sonho imperialista - a subjugação dos Estados gregos, aos quais apresentou uma política de «apaziguamento» e, quando eles (como os Estados europeus em 1938-40) se embalaram numa falsa sensação de segurança, confiados nas suas promessas bem pouco sinceras, engoliu-os, um a um. Mas, no meio do seu triunfo, foi assassinado; e Alexandre, o pupilo de Aristóteles, abandonou a filosofia teórica do mestre pelos sonhos práticos do pai. Completou a campanha interrompida de Filipe contra os Gregos e decidiu, depois, conquistar o resto do Mundo. Como um freio contra a própria impetuosidade, levou consigo o filósofo Calístenes, discípulo e sobrinho de Aristóteles. Calístenes, todavia, não logrou suster a impetuosidade de Alexandre. Pelo contrário, Alexandre pôs termo à vida de Calístenes. Enfurecido ante a recusa do jovem em considerá-lo um deus, mandou-o enforcar.
De novo Aristóteles apenas podia contar com os próprios recursos. Fora à Macedónia, em busca da glória política; sem a ter alcançado, regressava agora desiludido a Atenas, porém, em compensação, adquirira mais sapiência filosófica. Fartara-se da vida prática. Daquele momento em diante, devotar-se-ia ao estudo.
Por felicidade, estava em situação de se entregar profundamente aos estudos. Além da sua fortuna, que de modo algum era para desprezar, recebera do rei Filipe uma soma bastante avultada para as suas investigações científicas. Contratou uns mil assistentes e enviou-os a várias partes do Mundo, a fim de coligirem material e espécimes para uma vasta enciclopédia de Filosofia e Ciência.
Aristóteles, todavia, era mais do que um pesquisador. Era, acima de tudo, um professor. Magoado ainda pela sua derrota como candidato à presidência da Academia, abriu uma escola rival, o Liceu (assim chamado por estar situado no bosque dedicado a Apolo Lício, o defensor dos rebanhos contra os lobos). Reuniu o seu rebanho de estudantes e preparou-se para lutar contra os lobos da ignorância. Pela manhã, proporcionava cursos técnicos aos discípulos mais adiantados e, à tarde, dava aulas públicas ao povo em geral.
Os seus contemporâneos deixaram-nos um retrato vivo de Aristóteles como conferencista. Calvo e um tanto barrigudo (tinha agora cerca de cinquenta anos), cuidadosa e mesmo ostentosamente vestido, as pernas finas e os olhos penetrantes, a língua afiada, falava com o seu ceceio infantil ao conduzir, acariciar e satirizar os auditórios pelas sendas da sabedoria. Infatigável por natureza, era incapaz de estar sentado ou quieto ao fazer as suas palestras, especialmente pela manhã, quando os alunos eram pouco numerosos. Dirigia-se-lhes enquanto caminhava de um lado para o outro, entre as colunatas, expondo as suas ideias e respondendo-lhes às perguntas, e assim ganhou para o seu Liceu o apelido de escola Peripatética - a escola dos filósofos ambulantes. Ainda hoje a filosofia aristotélica é conhecida como o sistema peripatético.
Vamos assistir a algumas das sessões dessa escola, a fim de podermos vislumbrar o sistema aristotélico de Filosofia. Não entraremos nas suas numerosas observações científicas, por mais fascinantes que sejam, uma vez que elas constituem mais um catálogo de factos desorganizados do que uma síntese de pensamento orgânico. Expliquemos, contudo, de passagem, que a imperfeição do conhecimento científico de Aristóteles não era devida a nenhuma imperfeição do seu espírito, mas à ausência de instrumentos científicos necessários. Sem um telescópio, sem um microscópio, não podia fazer ideia da vastidão do Universo nem da pequenez de alguns dos esus componentes. Devida a tal carência, a ciência de Aristóteles tem hoje interesse histórico, apenas, e não valor prático.
Chegando, todavia, à sua filosofia especulativa, encontramo-nos em terreno mais universal, porque ela levanta três tópicos que dizem respeito de modo tão vital à nossa geração presente como diziam à sua. Esses três tópicos são Deus, o Estado e o Homem. Qual é a natureza de Deus? Qual é a melhor espécie de governo para o Estado? E qual é o comportamento mais desejável para o Homem? Aristóteles estuda a natureza de Deus na sua Metafísica, o governo do Estado na sua Política e a moral do Homem na sua Ética.
No sistema filosófico de Aristóteles, Deus não é o Criador do Universo mas a Causa do seu movimento. Porque o Criador é um sonhador, e um sonhador é uma personalidade insatisfeita, alma que anseia por algo que não existe, ser infeliz que busca a felicidade - em suma, criatura imperfeita que aspira à perfeição. Mas Deus é perfeito e, sendo perfeito, não pode ser insatisfeito ou infeliz. Não é, portanto, Criador mas o Motor do Universo.
Mas que espécie de Motor? A essa pergunta responde Aristóteles que Deus é o Motor não movido do Universo. Toda e qualquer fonte de movimento no Mundo, seja uma pessoa, seja uma coisa, seja um pensamento, é (de acordo com Aristóteles) um Motor movido. Dessa sorte, o arado move a terra, a mão move o arado, o cérebro move a mão, o desejo de alimento move o cérebro, o instinto de vida move o desejo de alimento, e assim por diante. Por outras palavras: a causa de todo o movimento é o resultado de outro movimento qualquer. O amo de todo o escravo é escravo de algum outro amo. O próprio tirano é escravo da sua ambição. Deus, no entanto, não pode ser resultado de nenhuma acção. Não pode ser escravo de amo nenhum. É a fonte de toda a acção, o amo de todos os amos, o instigador de todo o pensamento, o Motor não movido do Mundo.
Além disso, Deus não se interessa pelo Mundo, muito embora o Mundo se interesse por Deus. Interessar-se pelo Mundo significa sujeitar-se a uma emoção, deixar-se mover por preces ou imprecações, ser capaz de modificar o prórpio espírito em virtude das acções, desejos ou pensamentos alheios - em suma, ser imperfeito. Mas Deus é sem paixão, imutável, perfeito. Move o Mundo como um amante move o objecto amado. Passa pela rua uma mulher formosa. Absorta nos próprios pensamentos, traz os olhos fixos no chão. Não olha para ninguém. Mas toda a gente a contempla. A presença da sua beleza faz que todos os olhares se voltem, comove todos os corações, desperta pensamentos em todos os espíritos. Tal é a natureza da beleza de Deus. Sem ser movido, «produz movimento dentro de todos nós por ser amado».
Esse Deus aristotélico, amado por todos os homens e indiferente aos seus destinos, é um Ser Supremo, frio, impessoal e, do nosso ponto de vista religioso moderno, «perfeitamente» insatisfatório. Assemelha-se mais à Energia Primeira dos cientistas do que ao Pai Celestial dos poetas. O espírito humano, divorciado de toda a emoção, pode ser capaz de conceber tal governante desinteressado do Universo. Todavia, o coração humano, com a sua carga de tristeza e a sua capacidade de compaixão, insiste sobre um Deus que seja mais um amigo amante no Céu do que uma abstração, destituída de amor, nas especulações metafísicas de um filósofo grego. O coração está mais próximo, talvez, do mistério essencial do Mundo, do que o Cérebro.
Quanto à validade científica da especulação aristitélica sobre o Motor não movido, ou a Causa não criada de todo o movimento, a fraqueza da posição de Aristóteles é bem sintetizada pelas palavras da criança que perguntou: «Mas quem é que fez Deus?»
Quando Aristóteles passa do Céu à Terra, o pensamento torna-se-lhe mais lógico, mais compreensível, mais concreto. Uma por uma, estuda as várias formas de governo já experimentadas no Mundo - a ditadura, a monarquia, a oligarquia (governo dos poucos) e a democracia. Analisa cada qual de per si, reconhece-lhes as excelências e aponta-lhes as fraquezas. De todas as formas de governo, a pior é a ditadura, pois subordina os interesses de todos às ambições de um só. A forma de governo mais desejável é aquela que «permite a cada homem, seja quem for, desenvolver as suas melhores qualidades e viver o mais agradavelmente os seus dias». Tal governo, seja qual for o seu nome, será um governo constitucional. Qualquer governo sem constituição é despotismo, seja ele o de um só, ou de uns poucos, ou o de muitos homens. A vontade sem freio de um punhado de plutocratas ou de uma horda de proletários é exactamente tão tirânica como a vontade igualmente irrestrita de um só homem. A ditadura de uma classe não é melhor do que a ditadura de um indivíduo.
Partindo desse ponto, Aristóteles passa a descrever o que considera um tipo perfeito de governo não ditatorial:
Em primeiro lugar, esse governo não seria - como a «república» de Platão - comunista. A posse comum da propriedade, e especialmente das mulheres e das crianças, resultaria em contínuas incompreensões, contendas e crimes. O comunismo destruiria a responsabilidade pessoal. «Pelo que é de todos, ninguém se interessa.» A responsabilidade comum significa a negligência individual. «Toda a gente se inclina a fugir a uma obrigação, quando espera que outrem a desempenhe.» Não se pode esperar comunizar os bens humanos, assim como não se pode esperar comunizar a natureza humana. Aristóteles advoga o desenvolvimento particular do carácter de cada homem e a posse privada da poropriedade de cada homem.
Mas como o carácter particular de cada homem deve ser dirigido para o bem-estar público, também a propriedade privada de cada homem deve ser empregada para uso público. «E a tarefa principal do legislador consiste em criar em todos os homens essa disposição cooperante.» Cabe inteiramente ao legislador a obrigação de prover ao interesse público por meio de altruística reciprocidade dos interesses privados dos cidadãos. Para esse fim, não deve haver uma distinção rígida entre as classes dos dirigidos. Na verdade, todos os cidadãos deveriam, igualmente, por seu turno, governar e ser governados, com a cláusula geral de que os «velhos são os mais indicados para governar, e os jovens para obedecer».
A classe dirigente há-de preocupar-se vitalmente com a educação dos jovens. E essa educação há-de ser, a um tempo, prática e ideal. Não deve proporcionar aos cidadãos adolescentes apenas os meios de prover à sua subsistência, mas deve também ensiná-los como viver de acordo com os meios de que dispõem. Dessa maneira, o Estado assegurará a formação de uma cidadania, próspera, cooperante e satisfeita.
Acima de tudo, devem os dirigentes ter por objectivo o contentamento dos dirigidos. Contentamento por meio da justiça. Porque somente dessa maneira poderão evitar revoluções. «Nenhum homem sensato sofrerá um governo injusto, se puder escapar-lhe ou derrubá-lo.» Tal governo assemelha-se ao fogo que aquece, até ao ponto da explosão, o ressentimento do povo. Está destinado, mais cedo ou mais tarde, a redundar em violência. Julgada do ponto de vista da imparcialidade, com respeito aos cidadãos, «a democracia parece ser mais segura e menos exposta à revolução do que qualquer outra forma de governo». Os países que mais facilmente explodirão em rebeliões antecipadas são os governados por ditadores. «A ditadura», observa Aristóteles, «é a forma mais frágil de governo.
O fito do governo, escreve Aristóteles, é garantir o bem-estar dos governadores E assim a política traduz-se em ética. O Estado existe para o homem, e não o homem para o Estado. O homem nasceu com um único fim - ser feliz.
Mas que é a felicidade? É o sentimento agradável que nos envolve quando damos curso ao exercício habitual de boas obras. Contudo, para ser feliz, não basta simplesmente ser bom. É necessário ser também dotado de certo número de bens - isto é, boa orígem, boa aparência, boa fortuna e bons amigos. Acima de tudo, é indispensável à obtensão da felicidade, vida longa e sadia. «Uma andorinha não faz o Verão, nem o faz um dia só.» Para tornar a nossa vida um Verão perfeito, temos necessidade de muitos dias, de uma grande quantidade de luz solar e uma dose suficiente de harmonia.
Todavia, mesmo numa vida breve, e no meio do infortúnio, é possível, a um homem nobre, ser feliz, pois a alma nobre pode ensinar a insensibilidade ao sofrimento, a qual é, em si, uma benção. Por outras palavras: é alcançar a felicidade renunciando a ela. Além disso, nenhum homem se pode considerar infeliz se proceder de acordo com a virtude, pois esse homem «jamais fará algo odioso ou mesquinho». E a felicidade, como já dissemos, consiste na realização de boas obras. Não obstante, o único homem completamente feliz é o «que age de conformidade com a virtude completa e é suficientemente dotado de riquiezas, saúde e amizades, não por um período transitório, mas durante a vida inteira».
Mas se a felicidade é o resultado da virtude, que é então a virtude? Para os Antigos, não significa esta palavra, como hoje para nós, apenas excelência moral. Significava qualquer espécie de excelência. Dessa maneira, um Casanova grego poderia ser denominado um virtuoso amante pelo facto de ser um amante eficiente. Um general competente, embora impiedoso, seria, em Atenas, considerado soldado virtuoso. Na verdade, a palavra grega que se traduz em virtude, arete, derivava de Ares, o deus da guerra. O nosso termo virtude procede da tradução latina de arete-vírtus, que significa a qualidade de varão. Uma pessoa virtuosa, na filosofia de Aristóteles, era uma pessoa que possuísse coragem física, competência técnica e virtuosidade mental. A essas três qualidades, acrescenta, agora, Aristóteles, um quarto requisito para a felicidade - a nobreza moral. Essa excelência completa, portanto, era preciosa ao «guerreiro feliz» de Aristóteles no campo de batalha da vida.
Aristóteles sintetizou essa múltipla excelência na sua famosa doutrina da «Aurea mediocridade». O homem feliz, o homem virtuoso, é aquele que preserva a áurea mediocridade entre os dois extremos de um procedimento indigno. É o que navega pela rota média entre os baixios que ameaçam, de ambos os lados, arruinar-lhe a felicidade. Em cada obra, em cada pensamento, em cada emoção, um homem pode ultrapassar o seu dever, cumpri-lo insuficientemente ou cumpri-lo com justeza. Assim, partilhando os seus bens com outras pessoas, pode ser extravagante, o que é ultrapassá-lo; avaro, o que é cumpri-lo imperfeitamente; ou liberal, o que é cumpri-lo com justeza. Ao enfrentar os perigos da vida, pode ser um homem temerário, covarde ou bravo. Em relação aos seus apetites, será glutão, abstémio ou moderado. Em todos os casos, o meio racional da vida consiste em nada fazermos de mais ou de menos, devemo-nos cingir ao meio termo. O homem virtuoso não será supernormal nem subnormal, mas justa e sabiamente normal. Agirá «nos momentos certos, em relação aos objectos certos e às pessoas certas, com o motivo certo e da maneira certa». Adoptará, em suma, em todos os tempos e em todas as condições, a áurea mediocridade, pois esta é a estrada real da felicidade.
E, pavimentada a estrada da felicidade, Aristóteles descreve então o homem ideal, digno de ser feliz. O homem ideal, o cavalheiro aristotélico, «não se expõe desnecessariamente ao perigo mas está preparado, por ocasião das grandes crises, para dar a própria vida, se preciso for. Sente prazer em fazer favores a outros homens, mas envergomha-se quando outros homens lhe fazem favores, pois, como é indício de superioridade prestá-los assim o é de inferioridade recebê-los». Essa falta de egoísmo, entretanto, não é mais do que uma forma mais alta de egoísmo, um egoísmo esclarecido. Fazer uma boa acção não é um acto de auto-sacrifício, mas de auto-preservação, pois um homem não é uma criatura individual, mas uma criatura social. Além disso, toda a obra é um emprego rendoso de capital. Está destinada, mais cedo ou mais tarde, a ser retribuída com juros. «O homem ideal, por conseguinte, é altruísta porque é sábio... Não fala mal dos outros, nem sequer dos inimigos, a não ser que o faça directamente a eles... Não guarda rancor e esquece sempre as injúrias... Em resumo, é bom amigo dos outros porque é o melhor amigo de si próprio.»
O retrato do cavalheiro ateniense é, na realidade, o auto-retrato de Arsitóteles. Delicado, imperturbável e sábio, continuou a apontar aos seus semelhantes o caminho médio da segurança, situado entre a temeridade da conquita, de um lado, e a covardia da submissão, do outro. Mas os tempos andavam confusos. Os Atenienses não se encontravam predisposto a prestar ouvidos à sabedoria. Acusaram Aristóteles de ser um espião a favor dos Macedónios. Não lhes esquecera o facto de ter sido perceptor de Alexandre. Quanto a este, também se tornara hostil a Aristóteles. A sabedoria e a guerra eram dois inimigos irreconciliáveis. A moderação, a calma, a áurea mediocridade - uma doutrina perigosa de mais para ser ouvida entre o embater das armas conquistadoras. Alexandre já mandara enforcar Calístenes, sobrinho de Aristóteles. Sentir-se-ia mais tranquilo, se este sofresse a mesma sorte.
E assim, viu-se o suave filósofo ameaçado de vários perigos. Um desses perigos foi eliminado quando Alexandre morreu em consequência de uma bebedeira. Mas outro perigo, nascido da suspeita dos Atenienses, continuou a crescer constantemente até que, por fim, Aristóteles foi ameaçado de prisão.
Lembrando-se do destino de Sócrates, saiu da cidade antes que fosse demasiado tarde. Não queria proporcionar ao Atenienses «uma segunda oportunidade de pecar contra a filosofia» - disse.
Aristóteles escapou aos seus juízes, mas não pôde escapar à morte. Esta esperava por ele no exílio. O filósofo morreu um ano depois da sua partida de Atenas.
Pouco antes da sua morte, escreveu a maior das suas obras - um testamento curto, mas de grande significado, no qual cuidava da libertação dos seus escravos. Foi a primeira proclamação de alforria da História.
Finalizado a 29/11/99
Se ainda tem o fundo em preto é porque não passou o
ponteiro do rato sobre a vela. Faça-o.